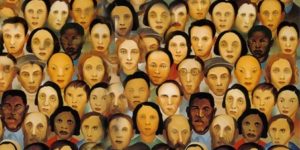 No Brasil a cultura da solidariedade em situações extremas é entrelaçada à negligência à perigos e fatalidades iminentes. Em uma das inúmeras abordagens possíveis pode refletir que é forte a influência da matriz religiosa, predominantemente cristã, que adverte “Deus como juiz do destino dos homens” (ALMEIDA 2007).
No Brasil a cultura da solidariedade em situações extremas é entrelaçada à negligência à perigos e fatalidades iminentes. Em uma das inúmeras abordagens possíveis pode refletir que é forte a influência da matriz religiosa, predominantemente cristã, que adverte “Deus como juiz do destino dos homens” (ALMEIDA 2007).
Desta forma a ordem desconhecida presente no caos dos desastres naturais ganha inúmeros desígnios sobrenaturais onde a iminência do pior é algo que se espera dada a vontade da divindade. O exemplo da figura de Jesus como divindade auxiliadora do próximo, salvador dos fragilizados na misericórdia é repetida inúmeras vezes em comunidades cristãs, comuns no Brasil.
Observa-se que o espírito patrimonialista em detrimento do que é público prevalece no cotidiano, em uma relação extremamente familista e que beneficia o que está próximo, desconsiderando relações sociais muitas vezes intrínsecas ao campo impessoal, como por exemplo, a luta da comunidade por políticas que os beneficiem eficazmente.
A luz da análise acurada acerca da dimensão humana com consideração das situações de riscos e desastres, sugerimos a decodificação de um padrão comportamental (e socioeconômico) que singulariza o brasileiro culturalmente e sustenta sua resistência, expressão de cidadania e atitudes empíricas que segundo Buarque de Holanda (1995):
“O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a penetrar com facilidade (…) Assim, nenhuma elaboração política seria possível senão fora dela, fora de um culto que só apelava para os sentimentos e os sentidos e quase nunca para a razão e a vontade.”
Quando se aborda o assunto de desastres e vulnerabilidades ambientais, há frequentes citações à questões antropológicas necessárias e da desigualdade social, concentração de renda e outras somatizações do sistema de produções que culminam no uso irregular da ocupação do solo e suas variáveis decorrentes, visto que a prévia proteção contra tais condicionantes muitas vezes não interessa ao ordenamento urbano devido ao ônus e realocação de interesses, sugerindo até a discriminação racial ou social nos conflitos ambientais.
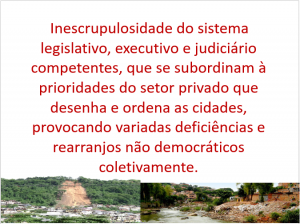 Isso propiciou o surgimento da “justiça ambiental” como uma corrente de características ideológicas que apresenta ao discurso da temática questões que vão além do protecionismo por si só e contestam a ordem vigente sob outros vieses. A segregação espacial que condiciona populações a ocupações indevidas e as apartam do exercício de direitos políticos sobre áreas urbanas as colocando em situações informais, caracterizam seletivamente alguns grupos como frágeis “irremediavelmente”, expondo a inescrupulosidade do sistema legislativo, executivo e judiciário competentes que se subordinam à prioridades do setor privado que desenha e ordena as cidades, provocando variadas deficiências e rearranjos não democráticos coletivamente.
Isso propiciou o surgimento da “justiça ambiental” como uma corrente de características ideológicas que apresenta ao discurso da temática questões que vão além do protecionismo por si só e contestam a ordem vigente sob outros vieses. A segregação espacial que condiciona populações a ocupações indevidas e as apartam do exercício de direitos políticos sobre áreas urbanas as colocando em situações informais, caracterizam seletivamente alguns grupos como frágeis “irremediavelmente”, expondo a inescrupulosidade do sistema legislativo, executivo e judiciário competentes que se subordinam à prioridades do setor privado que desenha e ordena as cidades, provocando variadas deficiências e rearranjos não democráticos coletivamente.
Imaginando os riscos e desastres como entraves à urgente causa do desenvolvimento sustentável a nível local e global, constitui-se uma análise dialética pensá-lo em uma conjuntura cada vez mais complexa de estruturação do poder e concentração das riquezas que requerem para si capital natural e humano carente de subsídios que garantam sua permanência, mas que são dilacerados irresponsavelmente em uma lógica acumulativa.
Em uma outra controvérsia que permeia direito, cidadania e quesitos ambientais estão as legislações que as norteiam e não são devidamente aplicadas, respeitadas e fiscalizadas. Este fato pode ser encontrado no Estatuto da Cidade e suas Diretrizes (BRASIL, 2001 – Lei 10.257), que estabelece segurança ambiental associada a políticas sociais e promete cumprimento daquilo que garantiria a solução de muitos problemas enfrentados pela população.
A participação dos munícipes na administração do que lhes diz respeito, levando em consideração análises antropológicas, culturais, conhecimentos ambientais, levantamento de dados e a amplificação de suas referências se faz substancial na democracia, como atesta Nogueira (2002):
“A gestão democrática das cidades requer a integração de instituições e setores sociais, a participação ativa da sociedade na discussão e resolução dos problemas, a implementação de mecanismos de auto-regulação, a informação pública como forma de qualificar os instrumentos de participação e a eliminação de focos de degradação ambiental urbana e de exclusão social, espacial e econômica. ”
Destacamos no âmbito do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (CEMADEN) um programa chamado “Rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres” que tenta junto com a comunidade “contribuir para a geração de uma cultura da percepção de riscos de desastres, no amplo contexto da educação ambiental e da construção de sociedades sustentáveis e resilientes”.
Outro programa de envolvimento comunitário são os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs) que propõe a criação de grupos comunitários de 20 a 25 pessoas com uma agenda para a análise e monitoramento de riscos, além do planejamento e atuação pós desastres.
No Ministério do Meio Ambiente ressalta-se “É importante a participação das comunidades na elaboração dos projetos e acompanhamento das intervenções para a sua valorização e sustentabilidade”. o que reforça a tentativa de envolver os cidadãos em políticas públicas e poderem ser mais ativos nas causas que os interessam.
O desenvolvimento dos direitos no Brasil se desenvolve como uma sequência onde cada vez mais o Estado tenta o controle, inócuo, para compartilhar e fortalecer aspectos dos deveres para a resiliência comunitária. Direitos e Estado caminham e amadurecem juntos, através de conflitos ou coragem para novas compreensões equitativas.